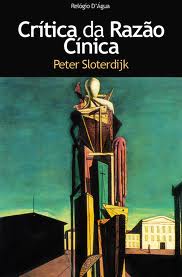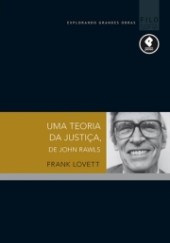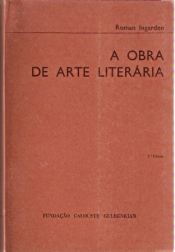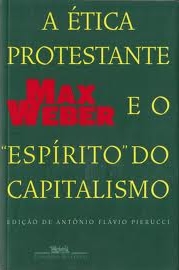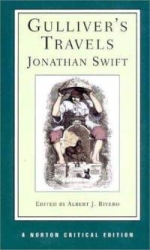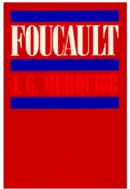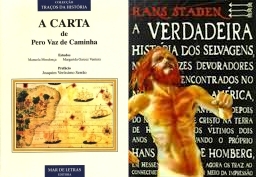Estive ontem na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, para assistir à encenação de Bartleby, o escriturário, de Herman Melville [Direção: João Batista; Cenografia: Doris Rollemberg; Elenco: Gustavo Falcão (Bartleby), Duda Mamberti (Advogado-narrador), Cláudio Gabriel (Turkey), Eduardo Rieche (Nippers), Rafael Leal (Ginger Nut)]. Em primeiro lugar, há de se louvar a dicção (no sentido amplo do termo) de Duda Mamberti, em seu sublime trabalho de memorização e clareza, algo ao alcance somente de grandes atores. Simplesmente magnífico. Cláudio Gabriel, Eduardo Rieche e Rafael Leal também estão impecáveis no veio cômico no qual cerca de metade do espetáculo mergulha. Gustavo Falcão, por sua vez, faz muito bem o contrapeso metafísico e existencial aos três personagens cômicos e ao atônito Advogado-narrador, neles instilando, aos poucos, aquela angústia de cunho filosófico, cuja especulação primeira está lá em Kierkegaard, como eu mesmo – desculpem-me a imodéstia – já dissera há nove ou dez anos em uma dissertaçãozinha de Mestrado (ver longo excerto abaixo). A direção, a cenografia, os figurinos (Mauro Leite), a música (Marcelo Alonso Neves), grata surpresa, e a iluminação (Renato Machado) estão muito bem articulados, para dizer o mínimo. Confesso que, em princípio, a opção pela leitura cômica, inspirada em Gilles Deleuze, mas certamente não só nele, causou-me certa apreensão. Ao longo do espetáculo, contudo, pude compreender que tal opção é mais do que justificável: optar por um caminho, digamos, mais trágico, poderia afastar por demais os espectadores não afeitos à densidade do escritor nova-iorquino, exposta mais particularmente no próprio personagem Bartleby, e na – simplifico – segunda metade do espetáculo. Uma ressalva: para um espectador/leitor mais acostumado à filosofia, as gargalhadas da platéia não deixam de ser uma surpresa, às vezes, incômoda. Talvez sejam necessárias para catarticamente aliviar um pouco a densidade da trama – e até aqui a decisão por provocá-las terá sido acertada –, mas é verdade que também, quando exageradas, não deixam de denotar uma concessão àquele vínculo popular com o espectador mediano, o espectador de boiada, tão acostumado ao nem sempre feliz humor global, sem o qual, por outro lado, nem sempre, creio eu, se deva sobreviver profissionalmente nos Trópicos. Há de se considerar, portanto, que a opção pela comicidade poderá acentuar a prevalência do efeito do caráter profundo do Advogado-narrador, e não o de Bartleby, sobre o público-boiada, para quem ele simplesmente morre. Estava escrito.
Para finalizar, trata-se de um espetáculo que faz jus ao incentivo recebido do Ministério da Cultura e que, espero, continue em cartaz por muito tempo. Eis as datas: 19 a 29 de maio (quintas a sábados, 21h, e domingos, 19h) e 7 de junho a 27 de julho (terças e quartas, 21h).
Abaixo, trechos de minha dissertação “Bartleby, de Herman Melville, e Begrebet Angest, de Søren Kierkegaard: possível aproximação” [Mestrado em Teoria Literária, PUCRS, 2002]
Bartleby, o escriturário: recuperação crítica
Pretende-se, aqui, fazer uma recuperação crítica da obra Bartleby, de Herman Melville. Um aspecto importante a ser levado em consideração é o de que a obra parece prestar-se a diversas interpretações – fato que se aplica mais especialmente ao protagonista (o próprio Bartleby), talvez devido a seu comportamento atípico. Muito se tenta reduzir o poder da personagem central por meio de uma suposta semelhança que guardaria com quaisquer outras personagens de ficção ou personalidades históricas. Tais tentativas talvez sejam nada mais do que um esforço de compreender a complexidade não só de Bartleby, a personagem, mas também de Bartleby, o texto. Ou, então, o espírito “eclético, pedante, altamente alusivo e astucioso” [1] de Melville.
Uma questão que de imediato se põe é a que diz respeito ao trabalho do crítico literário, isto é, o de quanto ele pode, ou deve, facilitar a assimilação de um texto literário sem que sua leitura se sobreponha às leituras que serão feitas no futuro. Em outras palavras, há o risco de que uma interpretação mais “especializada” se constitua em uma espécie de interpretação única, modelar. Acompanhe-se a seguinte reflexão: “Não é trabalho do crítico destrinchar a obra por meio de uma doutrina que a ela aplique, deixando ao leitor a impressão de que seu ensaio [o do crítico] seja tão completo que a leitura da própria obra passe a ser algo ao mesmo tempo supérfluo e menos abrangente”.[2] A partir desse raciocínio, insinua-se aqui a seguinte proposta: as leituras, por mais discrepantes que sejam, são sempre aceitas, embora nem todas sejam sempre aceitáveis – há liberdade para que o leitor elabore sua própria interpretação do texto, ainda que disso não decorra que com ela se concorde ou que ela seja intocável.
Acompanhando-se a profusão de textos críticos acerca de Bartleby, [3] fica-se com a impressão de que o texto em pauta é, na pior das hipóteses, extremamente sugestivo. Sabe-se que uma obra pode sugerir as mais diversas interpretações, mas em Bartleby parece que se está diante de uma extrapolação desse princípio. Dan McCall, em The silence of Bartleby, diz que facilmente se esquece da história Bartleby em meio à quantidade de estudos e textos críticos que a ela já foram dedicados.[4]
Bartleby foi a primeira short story (novela) [5] publicada por Melville. Em sua primeira edição, no Putnam’s Monthly Magazine, em novembro-dezembro de 1853, o título não era somente Bartleby, mas Bartleby the scrivener, e vinha acompanhado de um subtítulo: A story of Wall-Street. A seguir, inserida, em forma de livro, em 1856, na coletânea The Piazza Tales, a novela passa a ser chamada simplesmente Bartleby. McCall aponta que os cortes no título e no subtítulo talvez tenham se dado por um equívoco na troca de correspondências entre Melville e seu editor, quando aquele, ao se referir à obra em questão, o fez, por economia, apenas pelo uso da palavra Bartleby, induzindo o editor a tanto encurtar o título quanto a eliminar o subtítulo. Pode-se argumentar que a remoção do subtítulo e o corte do epíteto the scrivener enfraquecem a dimensão cultural, as pressões de ordem econômica e as relações sociais por eles indicadas. [6] Curiosamente, duas traduções brasileiras mantêm o epíteto, ou sob a opção “o escriturário” (Rocco, 1986) ou “o escrivão” (Record, s/d).
Como é impraticável relacionarem-se todas as interpretações de Bartleby, a seguir se apresenta uma síntese de algumas delas, apresentada em recente trabalho de McCall. Um ponto importante do estudo do professor da Cornell University é aquele em que ele se refere a três possíveis fontes para Bartleby: “The Lawyer’s Story”, de James A. Maitland; um trecho da Bíblia (Mateus, 25); um ensaio de Ralph W. Emerson.
A primeira, e talvez mais explícita das três influências, é um texto narrativo: “The Lawyer’s Story”, de James A. Maitland, publicado em 18 de fevereiro de 1853 no New York Times e no New York Tribune, alguns meses antes da publicação de Bartleby. A descoberta desse texto foi feita por Johannes Dietrich Bergmann, o qual publicou, no ano de 1975, o artigo “Bartleby and The Lawyer’s Story”. McCall não cita de maneira explícita o texto de Maitland, o qual se obteve de outra fonte, [7] e de que abaixo se reproduzem pequenos excertos, com a finalidade de cotejá-los com o texto de Melville. […]
In the Summer of 1843, having an extraordinary quantity of deeds to copy, I engaged, temporarily, an extra copying clerk, who interested me considerably, in consequence of his modest, quiet, gentlemanly demeanor, and his intense application to his duties; so much so, indeed, that I was sorry when, at the expiration of a few weeks, the business of my office growing slack, I no longer had occasion for his services; neither, at the time, did I know of any vacancy that would suit him; but I desired him, at all events, should anything turn up, to apply to me for a recommendation, assuring him that I would do all in my power to afford him assistance.[8]
E duas passagens do semelhante texto de Melville:
(…) There was now great work for scriveners. Not only must I push the clerks already with me, but I must have additional help. In answer to my advertisement, a motionless young man one morning, stood upon my office threshold, the door being open, for it was summer. I can see that figure now — pallidly neat, pitiably respectable, incurably forlorn! It was Bartleby. After a few words touching his qualifications, I engaged him, glad to have among my corps of copyists a man of so singularly sedate an aspect (…).
(…) if he desired to return to his native place, wherever that might be, I would willingly help to defray the expenses. Moreover, if, after reaching home, he found himself at any time in want of aid, a letter from him would be sure of a reply. [9]
Parece não haver dúvidas de que o texto de Maitland serviu de inspiração para que Melville criasse Bartleby em um processo transtextual (Genette, vide p. 72-73 deste trabalho) – mas apenas como um ponto de partida, já que, como bem assinala McCall, os protagonistas nas duas histórias são efetivamente diferentes. Por exemplo, a personagem Bartleby tem passado familiar ignorado, enquanto o protagonista da narrativa de Maitland, como se vê abaixo, possui uma irmã. Além disso, o caráter de Bartleby não comporta o “earnest and winning smile” (“sorriso sincero e triunfante”) do protagonista de The Lawyer’s Story :
The young man might have been, perhaps, a twenty years of age, and his sister scarcely sixteen; both were good-looking: but the young man’s countenance was shaded with constitutional or habitual melancholy — I judged the latter, because, at times, when anything deeply interested him, this expression disappeared, and left in its place an earnest and winning smile. [10]
Outro diferença importante é a de que o advogado em Bartleby, ao contrário do de Maitland,[11] jamais se refere à esposa – na verdade, toda a narrativa carece da presença feminina – embora, na primeira versão de Bartleby – e apenas nela – houvesse uma senhora (Mrs. Cutlets), esposa do cozinheiro (Mr. Cutlets, algo próximo de “Sr. Costeleta”). Observe-se o seguinte diálogo entre o advogado e o “grub-man” (algo próximo de “o homem da comida [‘do grude’]”), em que este é apresentado a Bartleby:
– Bartleby, this is Mr. Cutlets; you will find him very useful to you.
– Your sarvant, sir, your sarvant – said the grub-man, making a low salutation behind his apron. – Hope you find it pleasant here, sir; nice grounds – cool apartments, sir – hope you’ll stay with us sometime – try to make it agreeable. May Mrs. Cutlets and I have the pleasure of your company to dinner, sir, in Mrs. Cutlets’ private room? [12]
A segunda fonte possível, que ecoa a análise de outro comentador, Bruce Franklin,[13] seria o texto do Novo Testamento, mais especificamente Mateus 25, 34-40.[14] A inferência mais generalizante que se pode fazer é a de que o advogado acolhe Bartleby de maneira cristã. Ainda que as atitudes descritas no texto de Mateus naturalmente não se cumpram ipsis litteris em Bartleby, McCall argumenta que a semelhança entre os dois textos é bastante razoável: “Todas as palavras são diferentes, mas significam, de maneira poderosa, a mesma coisa”. [15] Outras duas comparações são feitas ao texto bíblico: (1) o fato de o advogado, que também é o narrador, textualmente citar as palavras do evangelho “A new commandment give I unto you, that ye love one another”, [16] quando resolve adotar comportamento mais cristão para com Bartleby; (2) o fato de o advogado negar Bartleby três vezes, assim como Pedro negou Jesus.[17] As passagens do texto de Melville em que o advogado estivesse a negar Bartleby são as seguintes: “but, really, the man you allude to is nothing to me”; “I certainly cannot inform you. I know nothing about him”; “In vain I persisted that Bartleby was nothing to me”. [18] McCall dá especial ênfase à primeira dessas passagens, que considera extremamente próxima do que se lê em Marcos 14, 71 (palavras de Pedro): “Não conheço esse homem de quem falais!’” (Cite-se o mesmo trecho, em inglês, para que se confira a proximidade vocabular: “I know not this man of whom ye speak”).
Fato curioso e que talvez só venha a comprovar a imensa variedade de interpretações a que a novela Bartleby parece estar sujeita é o fato de Bruce Franklin considerar a narrativa um exemplo de texto trágico: “trata-se de uma história trágica, independentemente de a quem estejamos nos referindo” [19], ao passo que, outro comentador, o filósofo Gilles Deleuze, apregoando antes de mais nada o aspecto anti-representacional do texto de Melville, sentencia: “Bartleby não é uma metáfora do escritor, nem o símbolo de coisa alguma. É um texto violentamente cômico (…)”. [20] Franklin aponta para a simultaneidade de três diferentes espécies de ética em Bartleby: a primeira implica ação e atuação finais no mundo em que se vive, a segunda implica ação no mundo com a intenção de fazer valer razões subjacentes e a terceira implica retirar-se do mundo. Como exemplos extremos dessas três categorias éticas, Franklin indica, respectivamente, Wall Street, Jesus Cristo e os monges orientais. A ética de Wall Street é aquela que vê no mundo um fim em si mesmo; Cristo prescreve um certo comportamento a ser adotado neste mundo e os monges buscam escapar de todos os mundos. Bartleby, de acordo com o crítico norte-americano, é um mundo em que as três éticas confrontam-se. [21] O advogado parece estar sendo testado, de acordo com Franklin, a viver de acordo com Mateus, 25, isto é, em temerosa solidariedade para com a personagem Bartleby.
A terceira e última possível fonte para Bartleby teria sido um ensaio de Emerson, The Transcendentalist, no qual se ouve a voz de um homem mais velho a aconselhar outro, mais moço. Para McCall, o ensaio retém uma certa semelhança para com a relação entre o advogado e Bartleby, o qual, por seu comportamento, leva o advogado a formular uma nova concepção de vida. É o seguinte o trecho ilustrativo de Emerson:
É um sinal de nossa época, conspícuo mesmo para o observador mais tosco, que muitas pessoas inteligentes e religiosas retirem-se da comum labuta, das competições do mercado e das reuniões partidárias, adotando um certo modo de vida solitário e crítico, o qual ainda não produziu nenhum fruto maduro que justificasse seu isolamento. Consideram-se distantes… Estão sós; o espírito de seus escritos e de suas falas é solitário; repelem influências; evitam a vida em sociedade; inclinam-se a trancar-se no seu cômodo em casa… a descobrir suas tarefas e seus prazeres na solidão. A sociedade, é certo, não gosta muito disso; aquele que resolve caminhar sozinho acusa o mundo inteiro; declara que ninguém serve para sua companhia.[22]
A aproximação feita por McCall pretende indicar, pela contraposição de dois comportamentos distintos, presentes tanto no texto de Emerson quanto no de Melville, que este teria buscado inspiração em The Transcendentalist ao compor as personagens do advogado-narrador e de Bartleby. Bartleby representaria o homem mais jovem, cuja inatividade provoca em seu interlocutor julgamentos e questionamentos.
[…]
Outras leituras
Egbert S. Oliver [23] faz uma leitura que aproxima Bartleby de a desobediência civil do Thoreau de Resistance to Civil Government ou Civil Disobedience, como o ensaio é mais conhecido. O “I would prefer not to” seria uma reductio ad absurdum das convicções de Thoreau. Oliver argumenta que Melville teria tentado reproduzir o afastamento de Thoreau, mas com o intuito de ridicularizá-lo, pois retirar-se do convívio social é algo que nunca se dá de maneira integral ou independente. A aproximação está fundada na semelhança entre o ato de recusa de copiar do escriturário e o ato de recusa de participar de uma sociedade, a resistência passiva, prenúncio de Ghandi, do naturalista de Concord, que se recusara a pagar impostos a um governo que apoiava a escravidão e a guerra. Segundo McCall, a resistência passiva do texto de Melville desqualifica-se como sendo uma alusão a qualquer espécie de resistência passiva pela presença do artigo indefinido inglês “a”: “Nothing so aggravates an earnest person as a passive resistance.” [24] De acordo com Kazin, o problema está em que Oliver tenta provar que Bartleby é Thoreau: “assim o que ocorre é que a relação [entre Thoreau e Bartleby] não é mais ‘possível’ mas passa a ser algo que se provou…”. [25] Outra contraposição, sugerida por McCall, à idéia dessa aproximação, é a de que nenhum leitor contemporâneo de Melville tenha levantado a hipótese se tal semelhança. Além disso, Thoreau não era “descorado, ameno, pálido, gentil e dócil” como Bartleby. [26]
A primeira e quem sabe mais convincente analogia entre Bartleby e outra obra depende, e não curiosamente, de efetiva aproximação entre seu autor e o autor da obra próxima. Leo B. Levy, no ensaio Hawthorne and the Idea of Bartleby, levanta a hipótese de que de fato Melville tenha usado uma obra de Hawthorne, The old apple-dealer, como fonte de inspiração. A idéia aqui é a de que o autor, de certa forma, parte de um texto de outro autor para compor o seu, o que não deixa de envolver um processo que se poderia chamar de mimético.
[…]
No caso do suposto aproveitamento da história de Hawthorne por Melville, não há maiores surpresas. Como se sabe o jovem autor nutria grande admiração pelo autor mais velho (Hawthorne era quinze anos mais velho) — o que fica comprovado no texto Hawthorne and his mosses, ensaio escrito três anos antes de Bartleby como uma espécie de encômio à obra Mosses from an old manse, de Hawthorne, talvez um bom indicador da emulação que viria a acontecer. Como aponta McCall, as próprias palavras de Melville em seu ensaio sobre o conteúdo de The old apple-dealer indicam sua devoção romântica ao futuro cônsul: “tais insinuações como as que encontramos nesta obra não podem proceder de um coração qualquer. Elas revelam tal profundidade em sua ternura, tal apreço por todas as formas de vida, tal onipresente amor que devemos dizer: ‘esse Hawthorne é quase um representante único de sua geração’”
[…]
Acompanhem-se alguns trechos de The old apple-dealer, uma espécie de sketch, segundo a própria denominação de Hawthorne (a reflexão sobre a construção de uma personagem é evidente: “Para falar a verdade, não é a coisa mais fácil do mundo definir e individualizar uma personagem como esta com que agora lidamos”). [27] Primeiramente, o narrador descreve a personagem que estuda, e já se podem notar algumas semelhanças entre ela e Bartleby (mantém-se o original a fim de facilitar comparações):
I remember an old man who carries on a little trade of gingerbread and apples, at the depôt of one of our rail-roads. (…) The old man looks as if he were in a frosty atmosphere, with scarcely warmth enough to keep life in the region about his heart. He is not desperate (…) but merely devoid of hope. (…) You discover that there is a continual unrest within him, which somewhat resembles the fluttering action of the nerves, in a corpse from which life has recently departed. Though he never exhibits any violent action, and, indeed, might appear to be sitting quite still, yet you perceive, when his minuter peculiarities begin to be detected, that he is always making some little movement or other.[28]
A seguir, talvez a maior aproximação possível com Bartleby, mais especialmente no adjetivo “forlorn” (desesperançado, desamparado), utilizado por Hawthorne, e que também descreve o protagonista na história de Melville: “I can see that figure now — pallidly neat, pitiably respectable, incurably forlorn! It was Bartleby. (…) I strangely felt something superstitious knocking at my heart, and forbidding me to carry out my purpose, and denouncing me for a villain if I dared to breathe one bitter word against this forlornest of mankind.”[29]. Em “gingerbread” que viria a ser reaproveitado como único item de alimentação da personagem Bartleby. Quando se observa a construção “old man of gingerbread”, de Hawthorne, pode-se facilmente compreender a concepção de uma personagem semelhante, que se nutre somente de tal item alimentício (“he [Bartleby] eats nothing but ginger-nuts”[30]). Segue-se o trecho de Hawthorne, em que se grifam as expressões apontadas acima:
The old apple-dealer never speaks an unnecessary word; not that he is sullen and morose; but there is none of the cheeriness and briskness in him, that stirs up people to talk. (…) And, in the midst of this terrible activity, there sits the old man of gingerbread, so subdued, so hopeless, so without a stake in life, and yet no positively miserable — there he sits, the forlorn old creature, one chill and sombre day after another… (…) Thus the contrast between mankind and this desolate brother becomes picturesque, and even sublime. [31]
Bartleby: confiabilidade do narrador
Para McCall, deve-se considerar o texto como um fim em si mesmo. Ler Bartleby na busca de uma ou de outra personalidade histórica é algo que empobrece o próprio Bartleby. A “leitura profissional”, ao contrário da simples leitura, faz com que o texto deixe de existir para que possamos expressar nossa engenhosidade crítica e erudita. Melville “em um processo extraordinariamente doloroso, faz de seu narrador um advogado ‘real’, convincente, um homem que reflete seriamente sobre a natureza de sua profissão e assim a exerce”.[32] Por isso seria inaceitável deixar de considerar essa personagem um advogado para considerá-la representação de qualquer outra coisa que não a de um advogado, o qual é, além disso, “um substituto do leitor, uma figura com que podemos nos identificar à medida que lutamos para compreender [a personagem] Bartleby”.[33] O professor norte-americano discorda das interpretações psicológicas que tendem a considerar a personagem uma projeção do advogado, fruto das profundezas de seu inconsciente, como se Bartleby fosse apenas fruto da imaginação do narrador. Não concorda tampouco com interpretações que reduzam o advogado-narrador a um papel político, a um (mau) representante em Wall Street de uma classe dominante que faz uso de seus subordinados, os quais, por sua vez, reduzem-se a seres reificados, verdadeiros autômatos de um sistema injusto. No que diz respeito à psicologização de Bartleby, adicione-se o depoimento de Borges: “Bartleby já define um gênero que Franz Kafka reinventaria e aprofundaria a partir de 1919: o das fantasias do comportamento e sentimento ou, como agora lamentavelmente se diz, psicológicas”.[34]
McCall diz “confiar naquele advogado”, apesar de acusações como esta, de Wilson: “o advogado reduz a moralidade a uma questão de dinheiro; [a história] é uma das mais amargas acusações ao capitalismo americano que já se publicou”. [35] Essa confiança reside em um necessário reconhecimento de que o narrador de fato dispõe-se a participar do mundo do protagonista em um nível que parece pairar acima do mundo do cotidiano. O advogado participa de um processo em que está a aprender com o empregado mais uma “lição de humanidade” do que está a se deixar representar como a expressão de um sistema socioeconômico injusto. Para McCall, “ver o advogado narrador como o representante de uma classe, uma inadvertida vítima de um sistema social e econômico, não é tanto fazer interpretação criativa do texto quanto é fazer uma paráfrase obtusa dele”. [36]
Talvez um trecho que combine a predisposição do advogado em interagir com Bartleby, isto é, em não expulsá-lo de seu escritório, seja este, no início da história. Logo após a primeira recusa da personagem principal em fazer o que se lhe havia requisitado, narra o advogado: “With any other man I should have flown outright into a dreadful passion, scorned all further words, and thrust him ignominiously from my presence. But there was something about Bartleby that not only strangely disarmed me, but in a wonderful manner touched and disconcerted me. I began to reason with him”. [37] Caso se aceite essa prevalência do caráter humano sobre a coisificação de que Bartleby seria vítima, outra passagem da história como “Here I can cheaply purchase a delicious self-approval. To befriend Bartleby; to humor him in his strange willfulness, will cost me little or nothing” [38] não pode ser interpretada como quer Wilson, que diz: “a palavra chave aqui é cost: tudo se torna uma questão de lucro ou perda. O advogado mede sua noção de moralidade, tanto quanto sua consciência, pelos termos de quanto isso lhe custará. Bartleby não é mais do que uma mercadoria no escritório do advogado.” [39]
A questão de fundo está em aceitarem-se as palavras do advogado-narrador como sendo as palavras de um homem que faz autocrítica ou, então, como sendo as palavras de um homem que, imerso no mundo voraz do capitalismo, só pensa em tirar proveito daqueles que o cercam. É uma questão de como se dá a leitura do texto e não uma questão de declarar-se peremptoriamente que apenas uma delas parece aceitável. Como se quer, aqui, aproximar o texto de Melville de um texto cujas características remetem mais ao mundo moral do que ao mundo da prática [O Conceito de Angústia, de Søren Kierkegaard], é natural que já se tenha percebido que a opção é por uma leitura voltada ao efeito ético que a personagem principal produz na conduta do advogado-narrador. Com isso, não se quer, em absoluto, afastar a possível interpretação política, sociológica ou classista da obra, mas apenas optar por uma leitura que se julga mais adequada ao propósito do trabalho. Tal leitura, em sua dialética, indiretamente não deixa de abordar a condição social das personagens. Quando se assume, como fator de mudança, a força da personagem que ocupa lugar inferior na escala econômica sobre aquela que lhe é superior, talvez já se tenha optado por uma interpretação que, mesmo abstrata e de tendência mais metafísica, agrade mesmo aos mais ferrenhos – e pouco afeitos à abstração – defensores dos fracos e dos oprimidos. Talvez se possa conquistar a simpatia até mesmo de Bruce Franklin, que, em 1970, propõe: “aquele que jamais fez qualquer espécie de trabalho físico não está apto a ensinar Melville (…). Devemos remodelar nossas idéias para que possamos nos juntar ao povo e servi-lo”. [40] Mais tarde, em 1976, sua crítica tornou-se ainda mais dura no texto Herman Melville: Artist of the Worker’s World:
Hoje, na história norte-americana, quando se aborda Melville como um artista proletário, você se expõe ao ridículo perante o establishment acadêmico literário, os professores que ‘recebem’ de U$ 15.000,00 a U$ 40.000 por ano representando inadequadamente a literatura. Para eles, toda grande literatura não possui conteúdo de classe, pois ‘transcende’ a luta de classes. A grande literatura existe para ser apreciada — por eles e por seus melhores alunos — por sua grandeza. Ou seja: reduzem a literatura a uma agradável amenidade de sua opulenta existência. O que é mais vital e relevante sobre Melville ainda é suprimido e enterrado. Pois o Melville que se ensina é um Melville redesenhado à imagem dos professores. [41]
O problema parece ser o de que a crítica de fundo marxista precisa justamente reduzir as personagens a dois grupos distintos. Essa redução, ainda que conveniente para fins doutrinários, talvez não seja o caminho mais adequado para a devida compreensão do alcance das personagens que, aprisionados em uma lógica maniqueísta, jamais podem transcendê-la, sob a pena de estarem rompendo com a “adequada” representação do mundo. Tal espelhamento parece requerer da literatura uma condição submissa, isto é, a literatura como meio para a conscientização: “A provocação originária, e ainda hoje sustentada , da teoria literária marxista, consiste em negar à arte, como às outras formas da consciência — moral, religiosa, metafísica —, uma história que lhes seja própria”. [42] […]
Bartleby, o escriturário: um resumo
A relativa boa recepção de The Piazza Tales de certa forma compensou o fracasso de parte dos romances escritos por Melville. Talvez em Bartleby, segunda história da coletânea, se tenha uma espécie de ironia em que o escritor cujas obras haviam sido renegadas passa a fazer pouco de sua atividade, reduzindo-a mero trabalho de cópia, mas com isso, e aí está a ironia maior, obtendo melhores resultados diante da crítica e do público.
Desde a ressurreição de Melville na década de 1920, muitos críticos têm lido Bartleby como uma alegoria da própria situação difícil por que passava o próprio Melville (…). A história do escriturário ou copista preso entre paredes reflete de maneira adequada a própria situação de Melville em 1853, quando estava escrevendo Bartleby — pelo menos é o que se diz. Melville também passou a ver seu trabalho como as dead letters [cartas cujo destinatário não se encontra] após o fracasso de Pierre em 1851. (…) Enfrentando a necessidade de sustentar sua família, voltou-se à escrita de ficção para a revista Putnam’s. Bartleby, the Scrivener foi a primeira dessas histórias e sua obra-prima no gênero.[43]
Em Bartleby, há um total de cinco personagens. A narrativa é conduzida por uma dessas personagens, um advogado cujo nome jamais nos é revelado. Tal personagem constitui um narrador que participa da história “não como protagonista, mas como figura cujo destaque pode ir da posição de simples testemunha imparcial a personagem secundária estreitamente solidária com a central”. [44] Ao lado dessa personagem (além de outros três empregados – Turkey, Nippers e Ginger Nut – cuja importância é secundária na história), atuando como protagonista, está Bartleby. A relação entre ambas é a seguinte: Bartleby é um escriturário, que trabalha para o advogado, que é seu empregador. Para este, Bartleby serve como fonte de desnorteamento e de preocupação devido à absoluta ausência, em sua personalidade, das ambições costumeiras e dos vícios, ambos inerentes à condição humana. [45] Isso se dá porque o escriturário teimosamente afirma – por recusar conformar-se às regras sociais – sua liberdade individual. Porém, a maneira pela qual impõe sua contrariedade é silenciosa e passiva ao invés de ser vigorosa e ativa.[46] Essa contrariedade de Bartleby é sempre expressa pela frase “I would prefer not to” (Prefiro não fazê-lo), com a qual o protagonista responde aos pedidos ou às ordens do chefe.
A resposta “I would prefer not to” é primeiramente dada quando a tarefa em questão é a de revisar os manuscritos copiados no escritório de advocacia. Bartleby não se recusa a copiar, mas a revisar. Essa atitude efetivamente desnorteia o narrador-advogado, pois é inusitada: um empregado não pode simplesmente recusar-se a fazer o que lhe é pedido. A primeira recusa se dá, aproximadamente, ao final do primeiro quartel da narrativa. O narrador, o advogado, diz: “In this very attitude did I sit when I called to him, rapidly stating what it was I wanted him to do – namely, to examine a small paper with me. Imagine my surprise, nay, my consternation, when without moving from his privacy, Bartleby in a singularly mild, firm voice, replied, ‘I would prefer not to’”. [47]
Um aspecto que se deve ressaltar é o da maneira pela qual a personagem principal ingressa na narrativa à primeira página da novela (sempre quem narra é o advogado): “But I waive the biographies of all other scriveners, for a few passages in the life of Bartleby, who was a scrivener the strangest I ever saw, or heard of. (…) Bartleby was one of those beings of whom nothing is ascertainable, except from the original sources, and, in his case, those are very small.” [48] Logo a seguir, o advogado descreve-se: “I am one of those unambitious lawyers who never addresses a jury, or in any way draws down public applause; but, in the cool tranquillity of a snug retreat, do a snug business among rich men’s bonds, and mortgages, and title-deeds. All who know me consider me an eminently safe man.” [49] (o grifo é do texto original). A contraposição entre as duas personagens é evidente: Bartleby não inspira tranqüilidade ao advogado, que, considerando-se um homem seguro, vê sua segurança ameaçada pelo estranho escriturário.
[1] McCALL, op. cit., p. 25. (Tradução: Vinicius Figueira).
[2] BARZUN, Jacques. apud McCALL, op. cit., p. ix. (Tradução: Vinicius Figueira). O texto de Barzun foi retirado de A little matter of sense (New York Times Book review – 21/06/87).
[3] Em uma simples visita a um site de uma universidade norte-americana (http:// raven.cc.ukans.edu/~zeke/bartleby/biblio.html), pôde-se colher mais de cinqüenta ensaios sobre Bartleby.
[4] Cf. McCALL, op. cit., p. x. (Tradução: Vinicius Figueira).
[5] Dada a possível dificuldade de transposição do termo short story, como Bartleby é geralmente chamado em inglês, ou mesmo da presença da palavra tale no título do livro em que se insere a obra em questão, apela-se a uma definição de novela: “na novela, a ação desenvolve-se normalmente em ritmo rápido, de forma concentrada e tendendo para um desenlace único (…). Na novela, o tempo representa-se quase sempre de forma linear, sem desvios bruscos nem anacronias, assim acompanhando a relativa simplicidade da ação; na novela, o espaço surge, se não desqualificado, pelo menos desvanecido, em certa medida ofuscado por uma personagem que se caracteriza pela excepcionalidade, pela turbulência, pelo inusitado”. Cf. REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de narratologia. Coimbra: Almedina, 1987. p. 295.
[6] Cf. McCALL, op. cit., p. xi. (Tradução: Vinicius Figueira).
[7] Agradece-se à Professora Margaret M. Dardis, da University of Iowa, a qual gentilmente enviou, por via eletrônica, o texto de Maitland.
[8] Maitland, James A. The Lawyer’s Story: Or the Wrongs of the Orphans. (cópia eletrônica do texto original).
[9] Melville, op. cit., p. 29 e 41.
[10] Maitland, James A. The Lawyer’s Story: Or the Wrongs of the Orphans. (cópia eletrônica do texto original).
[11] Acompanhe-se mais um trecho da história de Maitland: “While employed by me, he had occasion, once or twice, to be at my private residence late in the evening; and on one occasion my wife, when he was present, happened to observe that she wished she knew of some smart, clever girl to assist in making up some children’s dresses, he modestly said that he believed his sister was perfectly competent to the task and would be most happy to embrace the opportunity, for they were both very poor, and found great difficulty in getting along. Maitland, James A. The Lawyer’s Story: Or the Wrongs of the Orphans. (cópia eletrônica do texto original).
[12] No diálogo acima trocaram-se as aspas por travessões a fim de adaptá-lo à norma brasileira — processo que se adotará ao longo do trabalho. Obteve-se o texto original no site da University of Kansas. Disponível em: <http://raven.cc.ukans.edu/~zeke/ bartleby/biblio.html>. Acesso em: 19 abr. 2001.
[13] O livro de Franklin chama-se The Wake of the Gods e foi publicado pela Stanford University Press em 1963. Encontra-se parte do livro no site, já citado na nota anterior, da University of Kansas.
[14] Eis o trecho: “Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o Reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes. Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me’. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver?’ Ao que lhes responderá o rei: ‘Em verdade vos digo: cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes’.”
[15] McCALL, op. cit., p. 4. (Tradução: Vinicius Figueira).
[16] João 13, 34: “Dou-vos um mandamento novo: que vos amei uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros”. A citação aparece à página 49 em Bartleby.
[17] Marcos 14, 30: “Disse-lhe Jesus [a Pedro]: ‘Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás’ ”.
[18] Melville, op. cit., p. 53-54.
[19] Franklin, Bruce apud McCALL, op. cit., p. 5. (Tradução: Vinicius Figueira).
[20] Deleuze, Gilles. Bartleby, ou a fórmula. In: ___. Crítica e clínica. São Paulo: 34, 1997. p. 80. Essa argumentação de Deleuze mereceu resposta de Costa Lima em Mímesis: desafio ao pensamento. p. 331-347.
[21] Cf. FRANKLIN, Bruce. Bartleby: The Ascetic’s Advent. In: ___. The Wake of the Gods: Melville’s Mythology. Disponível em: <Http:// raven.cc.ukans.edu/~zeke/ bartleby/biblio.html>. Acesso em: 19 abr. 2001.
[22] Emerson, Ralph W. apud McCALL, op. cit., p. 6-7. (Tradução: Vinicius Figueira). Eis o original: “It is a sign of our times, conspicuous to the coarsest observer, that many intelligent and religious persons withdraw themselves from the common labors and competitions of the market and the caucus, and betake themselves to a certain solitary and critical way of living, from which no solid fruit has yet appeared to justify their separation. They hold themselves aloof…. They are lonely; the spirit of their writing and conversation is lonely; they repel influences; they shun general society; they incline to shut themselves in their chamber in the house… to find their tasks and amusements in solitude. Society, to be sure, does not like this very well; it saith, Whoso goes to walk alone, accuses the whole world; he declares all to be unfit to be his companions”.
[23] Disponível em: <Http:// raven.cc.ukans.edu/~zeke/bartleby/biblio.html>. Acesso em: 19 abr. 2001.
[24] Melville, op. cit., p. 34.
[25] KAZIN, Alfred apud McCALL, op. cit., p. 74. (Tradução: Vinicius Figueira).
[26] McCALL, University Press, op. cit., p. 76. (Tradução: Vinicius Figueira).
[27] HAWTHORNE, Nathaniel. The old apple-dealer. In: ____ . Tales and sketches. New York: Viking Press, 1982. p. 718. (Tradução: Vinicius Figueira).
[28] Idem, ibidem, p. 714-715.
[29] MELVILLE, op. cit., p. 29 e 42.
[30] Idem, ibidem, p. 34.
[31] HAWTHORNE, op. cit., p. 717 e 719.
[32] McCALL, op. cit., p. 95. (Tradução: Vinicius Figueira).
[33] Idem, ibidem, p. 100. (Tradução: Vinicius Figueira).
[34] Borges, Jorge Luis. Prólogos com um prólogo de prólogos. In: ____. Obras Completas. Barcelona: Emecé, 1996. v. IV. p. 110. Tradução de A. B. Pinheiro de Lemos.
[35] Wilson, James C. Bartleby: The Walls of Wall Street. Disponível em: <Http:// raven.cc.ukans.edu/~zeke/bartleby/biblio.html>. Acesso em: 19 abr. 2001 (Tradução: Vinicius Figueira).
[36] McCall, op. cit., p. 108. (Tradução: Vinicius Figueira).
[37] Melville, op. cit., p. 32.
[38] Idem, ibidem, p. 34.
[39] Wilson, James C. Bartleby: The Walls of Wall Street. Disponível em: <http:// raven.cc.ukans.edu/~zeke/bartleby/biblio.html>. Acesso em: 19 abr. 2001. (Tradução: Vinicius Figueira).
[40] FRANKLIN, Bruce apud McCALL, op. cit., p. 110. (Tradução: Vinicius Figueira).
[41] Idem, ibidem, p. 111. (Tradução: Vinicius Figueira).
[42] Jauss, op. cit., p. 36.
[43] Wilson, James C. Bartleby: The Walls of Wall Street. Disponível em: <Http:// raven.cc.ukans.edu/~zeke/bartleby/biblio.html>. Acesso em: 19 abr. 2001. (Tradução: Vinicius Figueira).
[44] Reis, Carlos e Lopes, Ana Cristina M. Dicionário de narratologia. Coimbra: Almedina, 1987. p. 258. Ver Genette.
[45] Cf. Hillway, op. cit., p. 116. (Tradução: Vinicius Figueira).
[46] Idem, ibidem, p. 115. (Tradução: Vinicius Figueira).
[47] Melville, Herman. Bartleby. In: ___. The piazza tales. New York: Amereon House. s/d. p. 30-31.
[48] Idem, ibidem, p. 22.
[49] Idem, ibidem, p. 23.
Foto de Melville: domínio público; Foto do grupo: Click Cultural (sem crédito de autor).