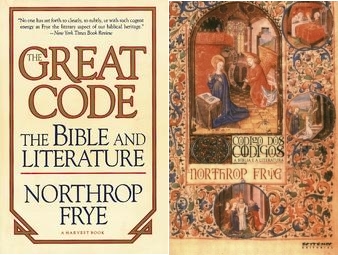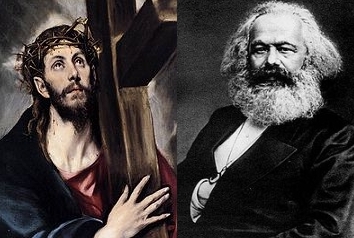Este texto é uma introdução a Alberto Caeiro e visa a oferecer subsídios a jovens alunos do Recife. (Observação de 30/11/2010: agradeço às mais de 1000 visitas de navegadores das regiões de Lisboa, Faro, Porto, Açores, Madeira, Braga, Coimbra, Aveiro, Setúbal, Évora, Viseu, Castelo Branco, Bragança, Leiria, Portalegre, Vila Real… Em tempo: Não façam uso deste texto para ludibriar seus professores. Eles perceberão.)
Falemos de Caeiro em linguagem simples, como convém falar de um guardador de rebanhos. É certo que há alguma dificuldade nessa simplicidade, uma vez que o guardador de rebanhos diz não ser, propriamente, um guardador de rebanhos, mas alguém que se sente como se guardasse rebanhos. Portanto, do poeta Pessoa afasta-se Caeiro em dois graus (ou em três, como contavam os antigos, e também Platão lá no livro X da República, ao falar dos leitos produzidos pelo artista). Mas que espécie de afastamento é esse e por que ele ocorre? Não há espaço aqui para um grande estudo da gênese dos heterônimos de Pessoa, mas, hoje, tal investigação pode ser feita com tranqüilidade, até mesmo sem a necessidade de sair da frente do computador, este maldito computador, marca simbólica da onipresença da ciência em nossas vidas, e que tanto nos afasta do mundo natural, caro ao heterônimo aqui analisado. Mas já divago. Volto.
Em plano o mais simples possível, partirei de um poema apenas – poema que tenha carga suficiente para sintetizar aquilo de que nos fala Caeiro. Antes de mais, não quero deixar de trazer para este texto analítico uma lição de outro poeta, do Bandeira crítico de si mesmo: “Aproveito a ocasião para jurar que jamais fiz um poema ou verso ininteligível para me fingir de profundo sob a especiosa capa de hermetismo. Só não fui claro quando não pude.” Essa declaração serve, penso eu, tanto para iluminar o crítico de Caeiro quanto para qualificar o próprio, que escrevia de maneira clara, de forma clara, sobre conteúdos nem sempre tão claros, é verdade, ao homem comum. Acreditem: para nós, que vivemos a pós-modernidade, tempo de mau uso da linguagem por parte de homens – em geral, franceses – que se dizem filósofos apesar de amarem mesmo é o embuste e os jogos irracionais feitos com palavras ambíguas, ser claro é um presente divino. Por isso, com Caeiro, dispomos da vantagem de voltar a uma certa rigidez da linguagem, a uma linguagem que tudo diz muito naturalmente e, atentem, sob o diapasão da racionalidade. De parte do crítico literário, portanto, nada mais natural do que a ela (à linguagem de Caeiro) responder com uma tentativa de compreender a “razão do poema”, como faria, aliás, um de nossos grandes críticos, José Guilherme Merquior.
Feita essa pequeníssima introdução ou declaração de princípios, passemos, sem mais delonga, ao poema de Caeiro a ser analisado. Trata-se do poema que começa pelo verso “O mistério das coisas, onde está ele?”, geralmente marcado pelo número “XXXIX” nas edições de O guardador de rebanhos:
I
1 O mistério das coisas, onde está ele?
2 Onde está ele que não aparece
3 Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?
4 Que sabe o rio disso e que sabe a árvore?
5 E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso?
6 Sempre que olho para as coisas e penso no que os
homens pensam delas,
7 Rio como um regato que soa fresco numa pedra.
II
8 Porque o único sentido oculto das coisas
9 É elas não terem sentido oculto nenhum.
10 É mais estranho do que todas as estranhezas
11 E de que os sonhos de todos os poetas
12 E os pensamentos de todos os filósofos,
13 Que as coisas sejam realmente o que parecem ser
14 E não haja nada que compreender.
III
15 Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:
16 As coisas não têm significação: têm existência.
17 As coisas são o único sentido oculto das coisas.
Como se vê, o poema está dividido em três estrofes. A primeira contém os sete primeiros versos; a segunda vai do verso oito até o verso quatorze; a terceira contém os três últimos versos, ou seja, estende-se do verso quinze até o verso dezessete. Essa divisão, formalizada por Caeiro, será, contudo, um pouco alterada aqui, a fim de contemplar mais propriamente o conteúdo do que a simples “contabilidade literária”, como costumo chamar a análise que se atém exclusivamente aos aspectos estruturais do poema.
Consideraremos, para efeito desta análise, que o poema está dividido em três outros núcleos: o primeiro núcleo, que chamaremos de núcleo perquiridor (em azul, para efeito didático [e bárbaro, no mau sentido. Perdoem-me, puristas.]), é aquele que vai do primeiro ao quinto verso; o segundo núcleo, que chamaremos de núcleo passageiro (em vermelho, para efeito didático…), contém os versos seis e sete; o terceiro núcleo, que começa pelo oitavo verso e vai até o fim do poema, será chamado de núcleo respondente (em preto [Ah!, que alívio.]).
A característica principal do chamado núcleo perquiridor é conter, em cinco versos, quatro perguntas, quatro indagações. Essas quatro perguntas procuram saber, em termos gerais, onde está o “mistério das coisas”. O primeiro verso – é fácil perceber – instaura claramente a pergunta central do texto: a necessidade de saber onde está o “mistério das coisas”. O segundo e o terceiro versos, formadores de uma mesma pergunta, parecem indicar uma reiteração, até certo ponto dramática (a expressão “pelo menos” é dramática), da pergunta feita no primeiro. Porém, já trazem um paradoxo, que é o de pedir à figura do mistério que se revele.
Ora, todo mistério que se revela, deixa de sê-lo. Então, mais do que dramaticidade a pergunta encerra certa ironia. Se encerra certa ironia, é porque traz consigo a convicção de que as coisas não contêm mistério algum. Se as coisas não possuem mistério por detrás de sua aparência, temos, diante de nós, um poeta descrente do etéreo, um poeta antimetafísico, um poeta descrente da essência das coisas, um poeta fiel à materialidade ou, no extremo antagônico e ao mesmo tempo semelhante, um poeta crente, crente da matéria.
[Pausa: estou usando o termo “poeta” para referir-me a Caeiro e à voz do poema. Alguns críticos não recomendam o uso do termo “poeta” para fazer referência a essa voz, preferindo usar o termo “eu-lírico”, ou algo semelhante, como modo de distinguir a voz do texto da voz do poeta-pessoa-física. Além disso, ao usar “eu-lírico” – argumentam tais críticos – retiramos o poder da voz de quem fala no poema das mãos (ou melhor, da boca) do autor, passando, democraticamente, tal poder a um ser imaterial, comum a todos que lêem o poema, ser que terá, supostamente, a possibilidade de sentir-se, em última análise, uma espécie de compositor do texto, um co-partícipe do processo de criação, um leitor-autor. Há um pouco de cinismo literário-populista nisso, mas já me estendo… Bem, o que me importa dizer aqui é tão-somente isto: ao chamar de “poeta” a voz que fala no poema, eu não me refiro à pessoa física nenhuma, pois Caeiro, a voz de que falo, o poeta de que falo, já não é Pessoa – se é que me entendem…].
Voltemos ao poema: o verso quatro – observem-no [dica ao leitor ainda inexperiente na análise poética: é bom imprimir o poema, em vez de ficar subindo e descendo a tela pela barra lateral do computador] – confere à arvore e ao rio uma possibilidade que é, pelo menos em tese, exclusividade de yahoos, digo, humanos: saber. Como há muito estamos distantes do animismo, temos aqui alguma estranheza, algum estranhamento. Mas o que é a literatura senão uma porta aberta à estranheza, ao estranhamento? Os formalistas russos que o digam, ou lhe digam (perguntem à professora).
O verso quatro já era forte o suficiente para indicar o pensamento do poeta, mas este, generoso, resolveu abrir ainda mais sua lógica e, no verso cinco, explicita, confessionalmente, o que no verso anterior fora “só” espanto: a equiparação entre homem e natureza. Essa equiparação entre o racional (isto é, o humano) e aquilo que se nos apresenta gratuitamente e sem explicação plena por parte da ciência (isto é, a natureza) visa, na ótica de Caeiro, a destituir o homem da posição que ocupa, ou pensa ocupar, neste mundo. Trata-se da velha questão do fracasso do antropocentrismo [assunto sobre o qual já falei, aqui mesmo neste site, no texto “Sobre abelhas e homens” e sobre o qual não me estenderei mais. Tal texto está disponível nos arquivos de dezembro de 2008 aí à direita]. Não sei se repararam que acabei de citar a “ótica” de Caeiro. É que ao encerrar a análise deste primeiro núcleo de seu poema, que chamei de núcleo perquiridor, quero já chamar a atenção para o primeiro verbo que ao leitor se revela no verso seis, o verbo olhar.
No verso seis, início do núcleo passageiro, o poeta olha para as coisas e depois, conforme ele próprio nos diz, pensa no que os homens pensam delas. Há neste verso duas obviedades: primeiro o olhar, primeiro o contato físico com o mundo; depois o pensar, mas não exatamente o pensar sobre o mundo, mas o pensar sobre o que os homens pensam do mundo. Nessa atitude de não pensar o mundo, mas de pensar o que os homens pensam do mundo, o poeta se exclui –voluntariamente, é claro – da condição de homem comum, colocando-se muito mais ao lado da natureza (do regato, da pedra e do aspecto oculto e ignorado de quem os criou) do que ao lado da racionalidade de seus companheiros primatas (sapiens sapiens, mas burrinhos). E Caeiro está certo. O poeta não pode mesmo navegar pelas mesmas águas em que navegam os homens previsíveis, senhores de uma razão obtusa que nos governa e cerceia. O pensar de Caeiro é outro. E então lhe vem o riso, e um certo deboche (verso 7). O riso, como ouvimos ao ler o que está escrito no poema, é representado pela figura do regato que passa por uma pedra: o som constante da correnteza se assemelha ao som do fluxo de riso ininterrupto que só se obtém em situações de extrema alegria ou comicidade. O riso: algo que o poeta consegue com certa facilidade. Sim, senhores, o poeta ri. E não é ele palhaço algum. [Para um textinho sobre minha visão do trabalho do poeta, procurar algo sobre Heidegger e Hölderlin que escrevi aqui no site, também nos arquivos de dezembro de 2008].
Os versos seis e sete, que, conjuntamente, formam o que chamei de “núcleo passageiro”, são, conforme a expressão indica, uma passagem aos versos seguintes, que, por sua vez, responderão à perquirição do primeiro núcleo. Diferentemente da perquirição dos primeiros cinco versos, a passagem dos versos seis e sete é um mergulho mais profundo no caráter do poeta. Caráter no sentido aristotélico, como característica de personagem. Em tais versos, o poeta mergulha em si e demonstra efetivamente o que é diante do mundo, ou como se comporta diante do mundo. Então, a partir do verso 8, o poeta passa a explicar (percebam que o verso começa pela conjunção “porque”) ou, melhor ainda, passa a explicitar, a abrir, a revelar (verbo caro à filosofia) o que é o mundo e como ele o interpreta. O tom dos versos é o do indubitável. As certezas articuladas pelo poeta nos vêm em camadas: a cada verso, ou grupo de versos, uma declaração peremptória.
Os versos 8 e 9 (“Porque o único sentido oculto das coisas / É elas não terem sentido oculto nenhum”) exemplificam bem a indubitabilidade que move o poeta, mas exigem um pequeno esforço interpretativo. Em primeiro lugar, fala o poeta em “o único sentido oculto das coisas” – do que deduzimos que todos os demais sentidos não são ocultos. Há, portanto, somente um sentido oculto, que é, conforme o verso 9, o fato de as coisas não terem sentido oculto nenhum. Percebam: é como se o poeta nos dissesse que apesar de pensarmos que há um sentido oculto por detrás de todas as coisas – uma ontologia que tudo explica – não há, não. É como se fosse um alerta um pouco impaciente de quem sabe, e precisa transmitir o que sabe aos obtusos ouvintes: “o único sentido oculto das coisas [, seus tolos,] é elas não terem sentido oculto nenhum”, diz o poeta, como se tivesse comungado com a ubiqüidade de um ser superior que tudo visse e cuja compreensão fosse muito maior do que a compreensão que nós podemos conceber. O poeta, assim, arvora-se em deus. Mas é um deus da matéria que está dada diante de nós, um deus que não busca ligar-se (ou religar-se) a nada, a não ser à concretude das coisas. Encaminhando o final de sua fala, do verso 10 ao 15, faz a (auto?)crítica a dois grupos de antigos detentores do saber da tradição ocidental: poetas e filósofos.
Poder-se ia perguntar por que se faz a consideração dos versos 10 a 15 em separado dos versos 8 e 9, já que todos pertencem à mesma estrofe. A resposta é simples e se dá por dois caminhos: 1) pela pontuação (há um ponto ao final do verso 9); 2) pelo conteúdo dos versos. Esse conteúdo revela-se pela inflexão da voz do poeta, rumo à comparação (percebam o “do que”[verso 10], o “de que” [verso 11] e o “que” [verso 13], todos elementos comparativos). Porém, antes de rumar à comparação entre “objetos” distintos, o poeta insiste em um verbo fundamental, o verbo ser [“é”], presente na abertura do verso 9 e na abertura do verso 10. Qual é o conteúdo de tal verbo? O de afirmar peremptoriamente e, mais importante do que isso, negar que se diga algo em contrário. Quando se diz que tal coisa “é assim”, a pretensão retórica é [!] a de demonstrar ao interlocutor convicção e, mais ainda, revelar a ele a essência do objeto de que se fala. O poeta – flagramos aqui – começa a pretender instituir certezas e, ao fazê-lo, efetivamente ingressa em terreno que não é, hoje, inteiramente seu. Como ele institui tais certezas? Descolando-se da própria condição de poeta e diminuindo a importância dos filósofos: “É mais estranho do que todas as estranhezas / E de que os sonhos de todos os poetas / E os pensamentos de todos os filósofos / Que as coisas sejam realmente o que parecem ser / E não haja nada que compreender”. Os sonhos dos poetas – diz-nos o poeta como se tudo olhasse de cima – e os pensamentos dos filósofos – diz-nos também o poeta como se tudo olhasse de cima – estão aquém das coisas, que são puro “parecer”. Porém, cuidado: este “parecer” das coisas de que nos fala o poeta não é o “parecer” comum do cotidiano, quando, por exemplo, dizemos, em expressão de dúvida, que “tal coisa parece ser assim”. Não. Este “parecer” das coisas é o modo pelo qual elas são em si, antes da interferência da consciência humana. É o modo pelo qual elas se revelam ou vêm a luz, fenomenicamente, de modo independente de nossa consciência [Para simplificar: à pedra é irrelevante a existência do humano. A pedra continuará a ser pedra, tenhamos ou não consciência dela.] Em resumo: pode-se dizer que o poeta, neste ponto do poema, começa a alçar vôo para além da esfera de incidência dos próprios poetas e dos filósofos. Recomendação: pausa para o café, antes de ler o próximo parágrafo.
O poeta, como lemos no verso 13, declara que as coisas são “realmente o que parecem ser”. Pois bem: o uso do advérbio “realmente” implica o conhecimento filosófico de que tal advérbio deriva de “res”, palavra latina que significa “coisa”. O que chamamos de “real” [latim: realis] é o mundo do tangível, o mundo das coisas propriamente ditas, que existem de fato. No verso 14, que complementa o 13, o poeta diz, então, que não há nada a compreender [atenção para este verbo], sublinhando, portanto, a distinção entre dois mundos: o mundo das coisas, independente da consciência humana (verso 13), e o mundo da consciência humana, voltada ao “compreender” (verso 14). Importante mesmo é o fato de o poeta dizer que “não haja nada a compreender”, algo que analisarei a seguir, no próximo parágrafo. Antes, porém, é preciso que já leiamos os três últimos versos do poema: “Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:/ As coisas não têm significação: têm existência. /As coisas são o único sentido oculto das coisas”. Vejamos o verso 15, em que o poeta diz que seus sentidos “aprenderam sozinhos”: trata-se da defesa incontestável da intuição, da preponderância do sentir sobre o pensar. Vejamos também os versos 16 e 17 (“As coisas não tem significação: tem existência / As coisas são o único sentido oculto das coisas”): Muito bem, são versos declarativos, afirmativos e pretendentes da revelação da essência das coisas (verbo “ser” no último verso…). São, como já disse acima, quando tratei dos versos 9 e 10, versos de imposição retórica. Amplio meu raciocínio: pelo verbo ser, no presente do indicativo, nós, humanos, alçamo-nos ou pretendemos nos alçar à onisciência. O verbo ser é a forma pela qual a linguagem mais se aproxima da certeza. Mas de que certeza? Uma certeza humana, demasiadamente humana, como diria aquele filósofo alemão indevidamente estudado, arguto perquiridor da nossa fragilidade. Uma certeza humana, falível.
Voltemos ao poema e pensemos em nossa falibilidade, já aplicada a Caeiro: se, de um lado, como diz Caeiro, é possível que os sentidos aprendam sozinhos, isto é, intuitivamente, de outro, não é possível que a comunicação de tal fato pelo poeta nos seja dada intuitivamente, mas somente pela linguagem, algo bastante racional (o que é a linguagem senão a razão em forma concreta?). Se, de um lado, é possível a Caeiro dispensar (retoricamente, como já disse) o ato de compreender, de outro, para chegar a esse desprezo é preciso alto esforço racional e, para comunicá-lo, é preciso novamente fazer uso da razão e da linguagem. É a nossa sina.
E aqui encerro: não se nega a intuição pura, o puro sentir, mas é preciso lembrar que, a partir do momento em que tal intuição se expressa em palavras (o que faz o poeta senão trabalhar com palavras?) prevalece o que achávamos estar perdido: a reflexão, o pensar, a racionalidade. Fechadas todas as portas e janelas à razão, ela volta pelo conduto da exaustão do intuitivismo. Essa a nossa vocação como humanos, essa a nossa falível inevitabilidade. O diapasão da racionalidade na obra do poeta aparentemente intuitivo, poeta-filósofo, pacificador do medo infundado de Platão. O cérebro e as sinapses: nossa culpa, nossa máxima culpa.
Links citados no texto:
https://viniciusfigueira.wordpress.com/2008/12/26/sobre-abelhas-e-homens/
https://viniciusfigueira.wordpress.com/2008/12/26/sobre-heidegger-e-sua-analise-de-holderlin-aplicada-a-mim-mesmo-sem-intencao-de-eco-ou-rima/